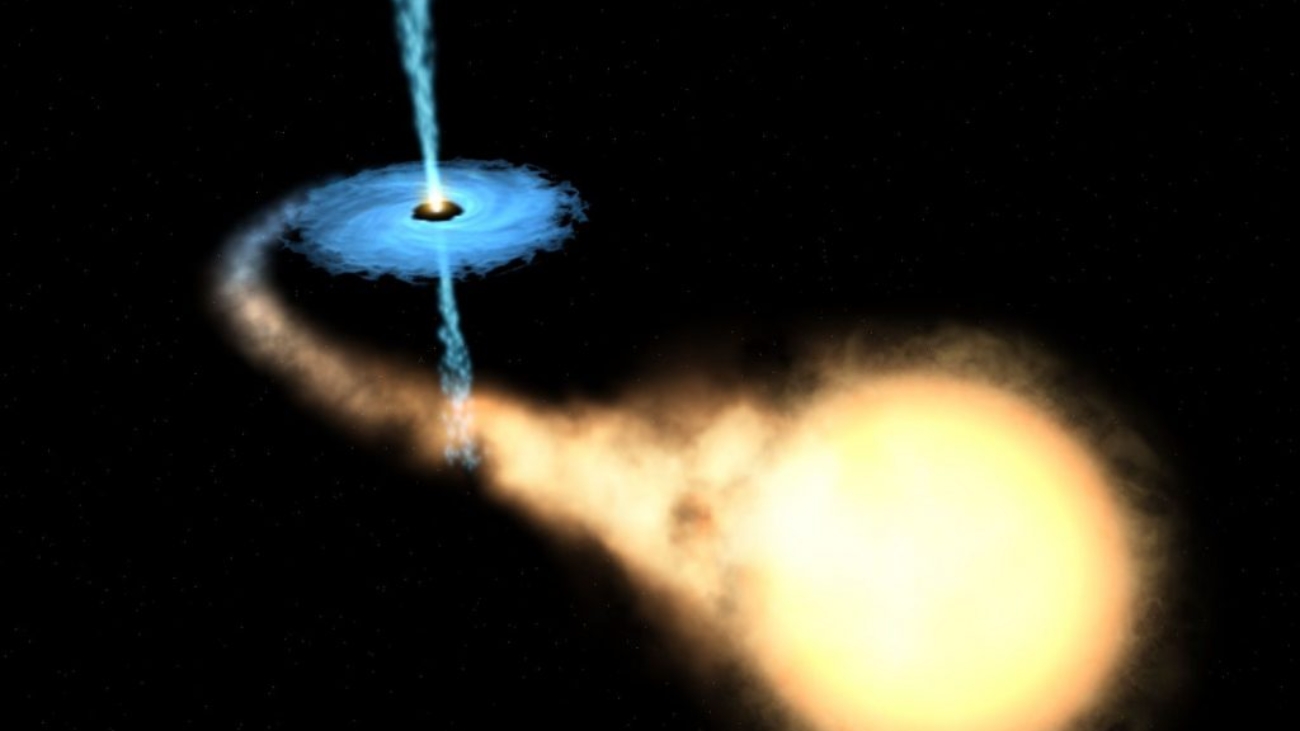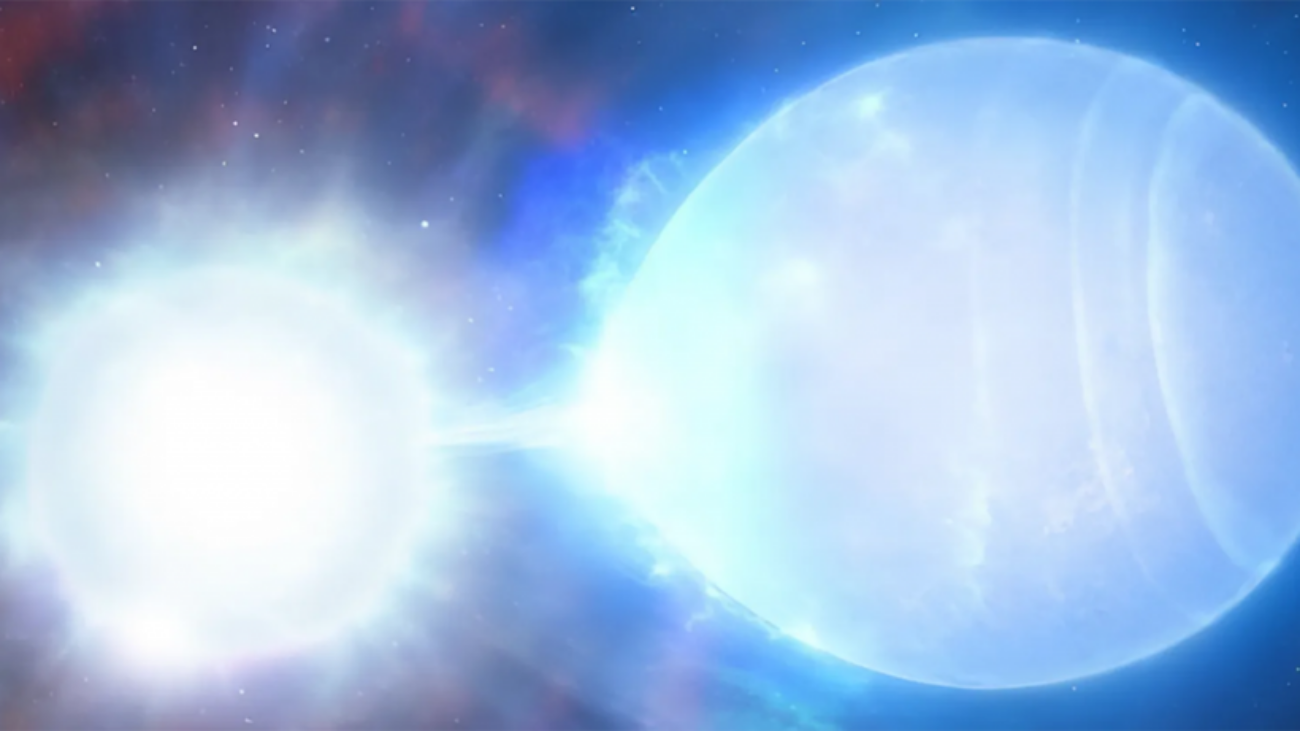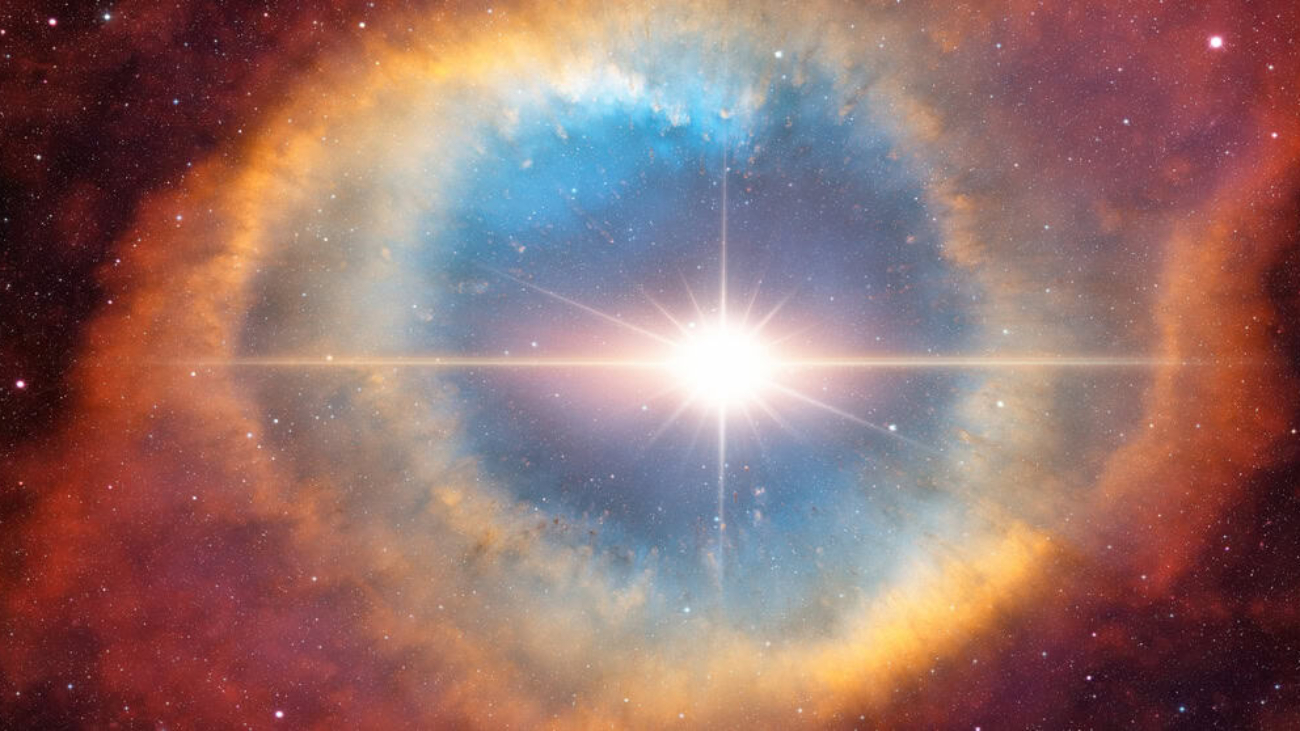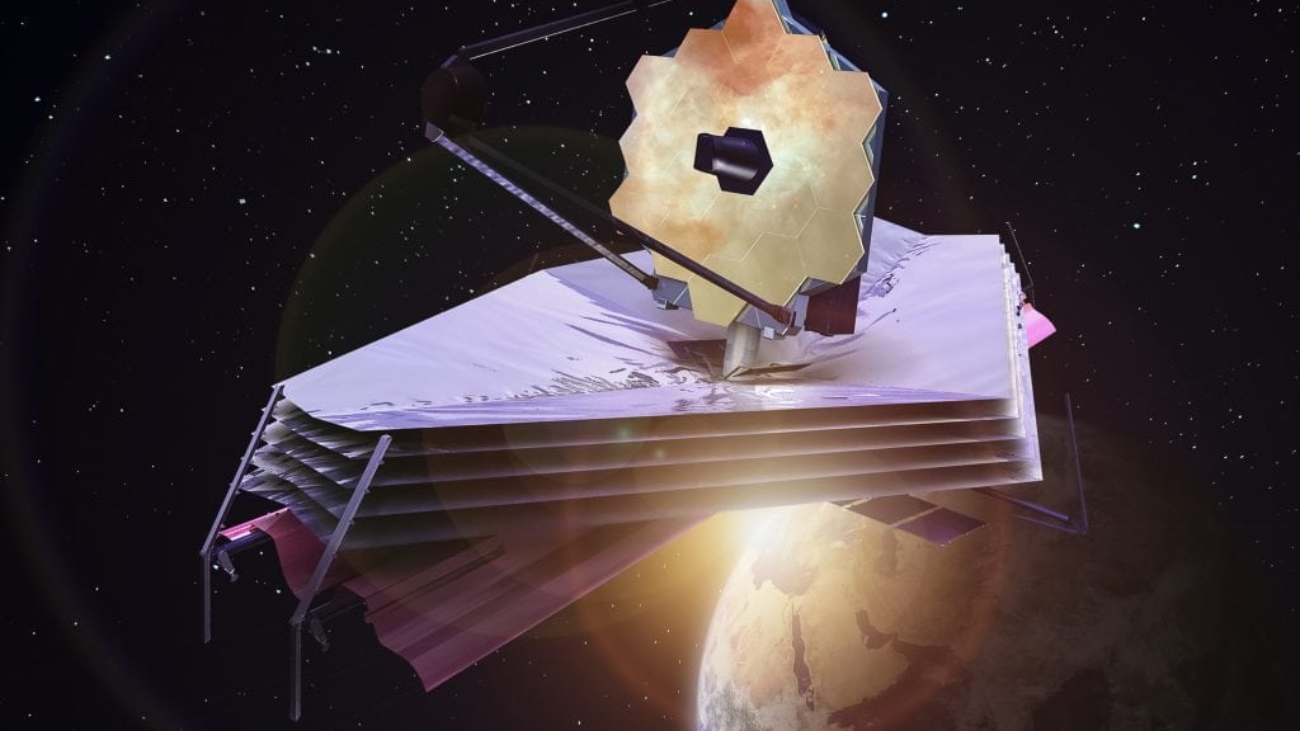Ao observarmos o céu noturno, é comum identificar padrões formados pelas estrelas, que muitas vezes lembram objetos, figuras ou formas conhecidas. Desde os tempos antigos, diferentes culturas atribuem significados e nomes a esses desenhos celestes.
Entre essas formações estão os chamados asterismos, estruturas que, embora não sejam oficialmente reconhecidas como constelações, são amplamente usadas para facilitar a navegação astronômica e a localização de estrelas.
Eles representam um elo entre o conhecimento científico moderno e a observação ancestral do cosmos.
O que é um asterismo?
Asterismo é o nome dado a um padrão reconhecível de estrelas no céu que forma uma figura, como um triângulo, uma colher ou uma linha brilhante.
Esses desenhos, visíveis a olho nu, não são considerados constelações formais, mas ainda assim ajudam observadores a se localizar no céu noturno.
Enquanto as constelações foram oficialmente definidas pela União Astronômica Internacional (UAI), os asterismos são construções populares, criadas por culturas ao longo da história para facilitar a navegação e a identificação de regiões celestes.
Leia mais:
- Fabricantes de e-bikes estão apostando em modelos mais baratos
- Dobrável, mais potente e off-road: Heybike anuncia atualização da e-bike Mars
- REI apresenta mountain bike elétrica com suspensão total
A diferença entre constelação e asterismo está principalmente na oficialidade e abrangência. Uma constelação é uma área do céu com fronteiras claramente definidas, como Leão ou Escorpião.
Já o asterismo é apenas um agrupamento de estrelas dentro de uma ou mais constelações. Eles podem ser parte de uma constelação (como o Cruzeiro do Sul, que é ao mesmo tempo constelação e asterismo) ou compostos por estrelas de várias constelações diferentes.
Um dos asterismos mais conhecidos do Hemisfério Norte é o Grande Carro (ou Big Dipper), que faz parte da constelação Ursa Maior.
Ele forma a figura de uma grande concha ou colher e tem sido usado há séculos como uma ferramenta para localização no céu. Prolongando-se em linha reta a partir das duas estrelas frontais do Grande Carro, é possível encontrar a Estrela Polar, que está alinhada com o Polo Norte Celeste.

Outro exemplo importante é o Triângulo de Verão, composto pelas estrelas Vega (da constelação Lira), Altair (da constelação Águia) e Deneb (da constelação Cisne).
Esse triângulo imaginário se destaca durante os meses mais quentes no Hemisfério Norte e serve como ponto de partida para localizar outras estrelas e constelações.
Já no Hemisfério Sul, o Cruzeiro do Sul é um asterismo notável e culturalmente importante, presente até mesmo em bandeiras de países como Brasil, Austrália e Nova Zelândia.
Os asterismos também são valiosos na educação astronômica. Como são fáceis de visualizar e memorizar, eles ajudam iniciantes a se familiarizarem com o céu noturno.
Alguns são visíveis mesmo em áreas urbanas, onde a poluição luminosa torna difícil identificar constelações completas. São como atalhos visuais que introduzem os curiosos à astronomia, funcionando quase como placas de trânsito estelar.
Vale destacar que diferentes culturas podem reconhecer diferentes asterismos. Antes da padronização das constelações pela UAI, em 1922, muitos povos já mapeavam o céu com base em padrões próprios. Isso faz dos asterismos uma ponte entre ciência e tradição, unindo conhecimento astronômico moderno com saberes antigos.
Com informações de EarthSky
O post O que é asterismo? apareceu primeiro em Olhar Digital.

 Cart is empty
Cart is empty